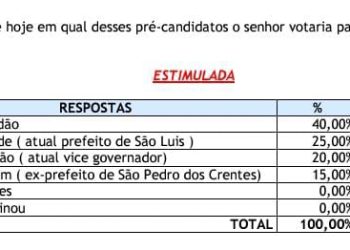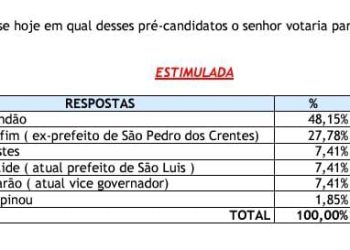Quando se evidenciou a incapacidade de Michel Temer manter-se na presidência da República, graças a uma combinação de fatores contagiosos que nem é preciso lembrar aqui, surgiu um debate entre os articuladores que passaram a comandar o país depois do golpe que derrubou Dilma.
Já que era preciso, de qualquer maneira, evitar uma antecipação das eleições presidenciais, saída que poderia colocar em risco os pactos já acertados e acordos de longo prazo firmados, surgiu a discussão sobre a necessidade de encontrar um sucessor a altura, para cumprir as mesmas tarefas.
Chegou-se a dizer, na época, que a escolha deveria cair sobre um quadro político acima de qualquer suspeita, quem sabe um estadista de primeira linha, a espera da grande oportunidade de exibir seus talentos e pacificar um país em crise histórica, dialogar com as partes e recuperar a democracia.
Até pela falta absoluta de atores adequados ao papel — mas não apenas por isso — o perfil do candidato se modificou com o passar do tempo.
Hoje, percebe-se que, do ponto de vista de quem articulou a queda de Dilma, a última opção seria escolher um nome com projetos próprios, identidade política clara e compromissos políticos históricos.
No ponto grave de esfarelamento das instituições políticas do Estado brasileiro, quando não dispõe da proteção mais importante, o escudo do voto popular, a presidência da República deixou de cumprir funções típicas do cargo. Seu horizonte é o varejo político — em todos os sentidos. Faz discursos pela TV, grava vídeos e viaja ao exterior. Agrada aliados e persegue inimigos. Não tem poder para as questões essenciais do país e da vida dos 200 milhões de brasileiros. Sua área real de atuação envolve as sobras do orçamento.
O verdadeiro poder no Brasil de 2017 se encontra na equipe econômica. Parece a situação impossível do rabo que abana o cachorro mas a descrição é verdadeira. As decisões que dizem respeito ao PIB brasileiro e aos grandes rumos do país giram em torno de Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e de Ilan Goldfarb, presidente do Banco Central, além do universo que se movimenta em torno dos dois. A ambos se atribui estabilidade no cargo. Tem-se como certo ali permanecerão em qualquer hipótese. Numa falta de cuidado que expressa um pouco caso diante chocante diante do calendário político, as páginas econômicas dos jornais já divulgam projeções e decisões para 2019 e mesmo 2020 — quando, supõe-se, o país terá um novo presidente, eleito em 2018, conforme a Constituição.
A posição dominante da equipe econômica se explica. Depois que os direitos soberanos do povo foram humilhados e diminuídos pelo afastamento de uma presidente eleita sem crime de responsabilidade, Meirelles & equipe tomaram posse do Estado em função da ligação direta com a fonte real de poder de nosso tempo — o sistema financeiro, o grande empresariado e, mais do que tudo, aquela força que em outros tempos costumava-se chamar de imperialismo.
É ali que se pronuncia a palavra final sobre assuntos decisivos na vida de 200 milhões de brasileiros, a começar pelas reformas, o futuro dos empregos, as saídas da recessão e o alinhamento comercial-diplomático do país. O presidente pode ser Rodrigo Temer, Michel Maia ou qualquer variação semelhante. O que não se cogita é alguém fora deste figurino, que recuse este comando, recebido como pacote fechado. É uma versão mais radical e grotesca da Europa de nossos dias. Ali, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a União Europeia — poderes não eleitos — exercem poder de tutela sobre as principais decisões dos governos de cada país, que têm a legitimidade de quem foi abençoado pelo voto popular.
E é porque se considera que seu nome é o ideal para cumprir este papel que Rodrigo Maia tornou-se um presidenciável em alta. Sua maior virtude é ser aquele que menos atrapalha os planos de quem já está mandando. Ao longo da carreira, não comprou uma briga memorável. Não cultiva disputas ideológicas. Destaca-se pelos bons modos, o espírito disciplinado, a obediência interiorizada, a invulgar capacidade de adaptação. Conseguiu passar pela ascensão e queda de Eduardo Cunha sem que fosse possível ouvir um murmúrio a respeito.
Não incomoda Rodrigo Janot nem a Lava Jato. Não leva jeito de que irá se indispor com Raquel Dodge nem com a Polícia Federal.
Não se tornou — menos ainda — alvo da TV Globo.
O que se quer é um presidente que não se atreva a criar problema com os princípios do Estado Mínimo e da ideia de conduzir um país de 200 milhões, residência de uma das oito maiores economias do planeta, a uma condição de dependência e submissão. Ao mostrar-se, desde o início, um auxiliar devotado a estes desígnios e projetos, Rodrigo Maia pavimentou seu caminho na sucessão.
A esperteza, aqui, é não incomodar. Não fazer ruído. Não atrapalhar.
Ética?
Democracia?
Soberania Popular?
Projeto de Nação?
Estas palavras continuam belas e fortes. Fazem parte necessária da construção de um país mais próspero e menos desigual. Na conjuntura atual, quando a política se resolve pelas costas do povo, tornaram-se um obstáculo e um estorvo, moinhos de vento que turvam mentes generosas, podem inspirar movimentos de risco. Tudo o que se quer é uma sucessão que não faça barulho nem provoque atrito, capaz de elevar a indignação da grande massa de brasileiros, a quem se pretende negar, mais uma vez, o direito de escolher o presidente e definir seu destino.
No golpe dentro do golpe, os candidatos não devem ter identidade própria nem programa. O debate natural de uma democracia — o que fazer, como — já está dado e foi resolvido a portas fechadas. Deve ser cumprido, com rigor, método e nenhum escrúpulo ou dor de consciência.