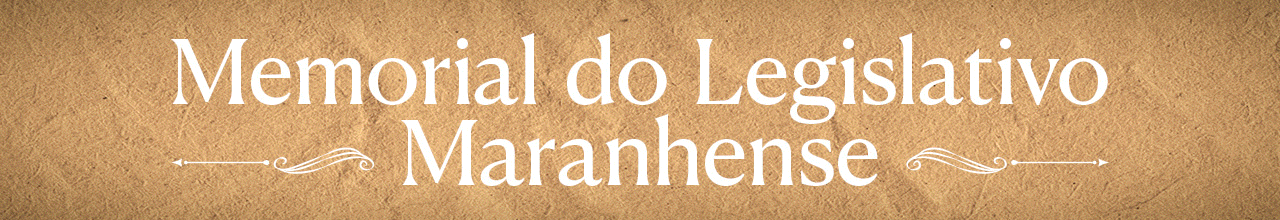Em uma das regiões mais pobres do país, os Ka’apor se dizem cansados de esperar ajuda e decidiram romper com a sociedade dos karaís, como chamam os não indígenas. Há anos eles expulsam madeireiros de dentro de suas terras. Fazem isso com as próprias mãos e muitas vezes com o uso de violência.
Há oito anos, eles dizem ter pedido para os professores se retirarem. Agora, fazem o mesmo com os médicos e reconstroem pequenas estradas internas, garantindo que toda a locomoção entre aldeias possa ser feita dentro do seu território.
O desejo pela autonomia começou a nascer na Terra Indígena Alto Turiaçu, no oeste do Maranhão, fronteira com o Pará, devido à insatisfação com o tratamento de diferentes governos. Após operações pontuais da Polícia Federal e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), dizem, os madeireiros voltavam a entrar em suas terras, roubando centenas de árvores e instalando até pátios para estocar a madeira.
Apesar da presença de alguns profissionais do Estado, os indígenas contam que morriam devido a diagnósticos mal feitos e julgavam que suas crianças aprendiam muito pouco com as escolas públicas instaladas dentro da terra.

Autonomia é ficar só. É não depender de ninguém, é se virar
Itahu Ka‘apor, um dos líderes Ka‘apor
O termo “autonomia” é usado por outros povos da América Latina que decidiram mudar a sua relação com o Estado desde os anos 1990. Diante do sucateamento de diferentes governos no continente, eles buscaram expulsar traficantes, madeireiros ou outros invasores da sua terra. Enquanto isso, também mudaram sua forma de organização e retomaram aspectos antes desprezados das suas culturas.
Ao Estado, porém, ainda cabe um papel. Para os Ka’apor, os diferentes departamentos públicos devem ajudá-los em aspectos específicos de áreas como educação e saúde, mas desde que reconhecendo e respeitando o modo de fazer dos indígenas.
A ideia de que os povos tradicionais possam controlar as suas instituições e seu modo de vida está previsto na Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), assinada pelo Brasil em 2004. Por isso, segundo o antropólogo Spensy Pimentel, professor na Universidade Federal do Sul da Bahia, a organização de grupos como o Ka’apor não significa uma afronta ao Estado, mas sim uma prática legal que deve ser amparada.
Essa mudança dos Ka’apor começou bem antes da fiscalização do território. As ações em que eles expulsavam os madeireiros de sua terra fizeram os Ka’apor ganhar atenção internacional, mas elas são consequência de um processo mais profundo de mudança.
Tudo começou há cerca de oito anos, quando eles decidiram romper com o sistema educacional importado de fora das aldeias. Para eles, a expulsão de professores vindos de fora da terra indígena foi o primeiro passo.

A distinção mais marcante entre os Ka’apor e as pessoas que vivem ao redor de sua terra é a língua. As crianças dentro da terra sequer respondem a chamados em português e, entre os mais velhos, as conversas se alongam por horas no idioma Ka’apor, falado somente pelos 1.900 indígenas desse povo.
A língua foi a base de um novo sistema de educação. Desde então, as crianças só aprendem português após completarem 11 anos. Até essa idade, todas as aulas são na língua indígena.
A divisão em séries também não é seguida da mesma forma das escolas fora da aldeia, já que as crianças se misturam em grupos com diferentes idades. Eles enfatizam que a sua educação é muito mais prática do que aquela fora da aldeia. “Se eu ficar só estudando, eu vou esquecer o que aprendo”, explica Itahu Ka’apor, uma das lideranças dos indígenas.
Do governo, os Ka’apor ainda exigem a estrutura para as salas de aula e a merenda. Além disso, buscam o reconhecimento formal do ensino Ka’apor fora da aldeia.
A secretária adjunta de educação do Maranhão, Nádia Dutra, admite que a situação é precária devido a uma “negligência histórica” do Estado na área. Ela afirma que o atual governo tem avançado na discussão com diferentes comunidades indígenas, incluindo os Ka’apor.
Nádia diz que o governo do Maranhão reconhece as demandas e particularidades desses indígenas e que agora aguarda que os Ka’apor enviem um plano pedagógico, para que as particularidades do seu sistema possam ser reconhecidas.
A criação de um sistema educacional Ka’apor fez com que as aldeias criassem vínculos maiores entre elas. Com o diálogo que se estabeleceu graças à educação, os indígenas dizem ter criado as condições para mudar completamente a forma como eles se organizavam.
L
O processo de retomada da educação levou à percepção de que os seus antigos líderes, os caciques, não eram uma instituição tradicional dos Ka’apor, mas teriam sido impostos pela Funai (Fundação Nacional do Índio) em décadas anteriores, para intermediar a relação do órgão com as aldeias.
O cacique nunca resolveu os problemas da comunidade. Teve alcoolismo dentro das aldeias, fofoca, brigas. Mas o cacique não dava conta de resolver
Iratowí Ka’apor, um dos líderes Ka‘apor
Ao perceber isso, eles tomaram a atitude mais importante em busca da autonomia: acabaram com o cacicado. As aldeias se uniram em torno de um conselho formado por sete lideranças, que hoje tomam as decisões coletivamente. Hoje, 14 das 17 aldeias respondem ao “conselho de tuxás”, nome dado a esses líderes.
No conselho, as decisões são tomadas de maneira coletiva, em contraste com os caciques que tomavam as decisões de maneira unilateral. Além do grupo formado pelos tuxás, cada aldeia tem também seu próprio conselho, que toma decisões locais e define as punições para quem descumprir acordos.
Logo em sua criação, o conselho proibiu o consumo de bebidas alcoólicas dentro da terra indígena, origem de problemas de saúde e moeda para “comprar” a entrada na terra. Junto à proibição do álcool, eles deram início a uma restrição ainda mais difícil –a dos madeireiros dentro da terra.

No vácuo do Estado, as ações de fiscalização da terra feitas pelos indígenas são as mais controversas, pois costumam ser violentas. As imagens gravadas e divulgadas pelos Ka’apor revelam grupos de madeireiros sentados no chão com as mãos amarradas para trás, enquanto ouvem, cabisbaixos, a bronca de indígenas que seguram espingardas de chumbo e arcos.
Em um vídeo de 2014, é possível ver que um dos madeireiros tem o pescoço roxo, sinal de pancadas que acabara de levar. De dedo em riste, um dos Ka’apor explica por que eles estavam naquela situação: “Por favor, não entra mais aqui. Nós não mexemos nas coisas de vocês lá”.
Esse tipo de situação tornou-se rotineira para a guarda Ka’apor, que realizou diversas ações parecidas desde 2013, até conseguir diminuir a entrada de invasores. Apesar de cumprir a função esperada, os indígenas atacaram a parte mais fraca da longa cadeia do desmatamento: os madeireiros contratados para fazer o trabalho do corte, o mais pesado e menos valorizado do setor.
Por diversas vezes, pontes e caminhões dos madeireiros foram queimados para que eles não retornassem ao local. Em alguns desses casos, os madeireiros tiveram de voltar para a cidade a pé. “Se não queimar, no outro dia o madeireiro rouba com o mesmo caminhão,” afirma Iratowí Ka’apor, um dos líderes Ka’apor.
Do outro lado, os indígenas também são vítimas de violência. As ações de proteção ao território geram represálias cada vez maiores. O pior momento de conflito aconteceu em 2015. Após receber uma série de ameaças, o indígena Euzébio Ka’apor foi morto em uma emboscada com um tiro nas costas, perto da aldeia onde morava e de onde saiam parte das ações de fiscalização.
Para os Ka’apor, não há dúvidas de que a morte está relacionada às suas ações de proteção. A Polícia Federal, porém, ainda não chegou a uma conclusão sobre o caso. O delegado que coordena a investigação, Francisco Roberio Lima Chaves, não respondeu aos pedidos de entrevista da “Repórter Brasil”.
Em meio aos conflitos, a guarda é reconhecida internacionalmente. Em 2016, ela foi destacada pela Relatora Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas da ONU (Organização das Nações Unidas), Victoria Tauli-Corpuz, como exemplo de “enfoques proativos por parte dos povos indígenas” para a realização dos seus direitos. Organizações internacionais, como o Greenpeace e a Global Witness, também apoiaram a iniciativa.
O Estado brasileiro, porém, não encarou a sua criação da mesma forma. À época em que o caso se tornou conhecido no Brasil, José Eduardo Cardozo, então ministro da Justiça, pediu que fosse aberta uma investigação sobre a atuação dos indígenas.
Já a atual administração da Funai informou que “não apoia nem pode apoiar ações de fiscalização realizadas por indígenas”. Segundo a fundação, somente órgãos de Estado com poder de polícia podem fazer essa atividade. A Funai informou que, em 2017, utilizou “cerca de” R$ 1 milhão em medidas de proteção para áreas prioritárias, o que inclui a Terra Indígena Alto Turiaçu.
Apesar de ser a face mais conhecida da defesa territorial dos Ka’apor, a guarda não é a única maneira dos indígenas prevenirem a destruição de sua floresta. Para coibir a entrada dos madeireiros, começaram a estabelecer “áreas de proteção”, que são pequenas aldeias no final das estradas improvisadas para retirar madeira do território.
Hoje, são sete áreas de proteção estabelecidas em clareiras onde havia somente pilhas de toras de madeira até poucos anos atrás. Segundo os indígenas, a estratégia tem funcionado. “Quando a Polícia Federal ia embora, no outro dia o madeireiro entrava de novo. Agora é diferente e isso deu mais calma para nós”, diz Iratowí Ka’apor.
Os dados corroboram a percepção dos indígenas. A Alto Turiaçu, onde eles vivem, teve apenas 0,4% do seu território desmatado nos últimos quatro anos, segundo dados compilados pela Global Forest Watch a partir do Prodes, projeto do governo federal que monitora o desmatamento.
No mesmo período, um território vizinho, a Terra Indígena Awa, perdeu quase 2% da cobertura florestal no mesmo período –ou seja, uma destruição cinco vezes maior.
Dessa forma, os Ka’apor têm protegido a maior parte do que resta da floresta amazônica no Maranhão. De acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pouco mais da metade do que sobrou da floresta no Estado está dentro de terras indígenas, e a mais preservada delas é a Alto Turiaçu.
Isso é facilmente visto em fotos de satélite, que mostram o contraste da área preservada com o entorno. Olhando o mapa, a fronteira da terra Ka’apor é facilmente localizada, marcando exatamente onde começa a cobertura vegetal.
Com o território controlado –e sob constante vigilância– os Ka’apor priorizam agora duas outras mudanças: dirigir o atendimento à saúde e criar estratégias para se isolar das cidades próximas.
DESAFIOS DOS TRATAMENTOS DE SAÚDE
No final do último ano, uma sequência de diagnósticos imprecisos levou à morte da indígena Sokohi Ka’apor, que havia acabado de ter um filho. No posto de atendimento aos indígenas da cidade mais próxima, Zé Doca, ela foi informada de que tinha somente uma infecção urinária e que deveria voltar à aldeia onde morava. Dias depois, morreu devido a uma pneumonia não diagnosticada.
Antes da morte, os indígenas já alertavam que eram negligenciados pela Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). Mas o caso foi o estopim para que eles também buscassem o rompimento com os karaís na saúde.
Os Ka’apor pedem agora a ajuda de voluntários de fora da aldeia, e reivindicam uma participação menor do governo nessa área. “Hoje estamos pedindo uma camionete, um médico e um técnico de enfermagem. Se eles garantirem isso para a gente, está perfeito. Ninguém vai pedir mais nada do governo,” diz a liderança.
Itahu quer que os Ka’apor tenham controle sobre o atendimento à saúde no local e que os novos médicos e enfermeiros respeitem a medicina tradicional dos Ka’apor. “Eu não preciso do remédio do karai. Eu tenho o meu, bem guardado na natureza. Se tiver alguém gripado, eu tenho mel no mato, eu tenho capim no mato,” diz Itahu.
O Ministério da Saúde afirmou que os indígenas recebem atendimento de duas equipes de saúde, compostas por cerca de 12 profissionais, e que “não há nenhum registro de preconceito ou maus-tratos por parte dos profissionais de saúde com essa população”.
O ministério, porém, confirmou que não tem feito atendimentos médicos na aldeia Xiborendá, a maior da Terra Indígena Alto Turiaçu onde vivem mais de 500 indígenas. Segundo o ministério, isso acontece “por não aceitação dos próprios indígenas”.
Lunaé Parracho/Repórter Brasil
Ka’apor preparam jacaré caçado na área de floresta amazônica que resta em Terra Indígena Alto Turiaçu
SISTEMA PRÓPRIO DE ESTRADAS
Ir de uma aldeia para outra na terra indígena pode ser um processo longo e perigoso. É necessário andar mais de 40 km por assentamentos em estradas péssimas com pouca ou nenhuma iluminação e fazer um trajeto pelo asfalto, passando por cidades onde muitos moradores são hostis aos indígenas.
Buscando caminhos mais curtos e menos perigosos, os Ka’apor agora constroem pequenas estradas dentro da própria terra. Um trajeto entre duas aldeias, que hoje demora cinco horas e meia, poderá ser feito em 30 minutos. Poder caminhar ou dirigir uma moto de uma aldeia a outra, sem sequer passar pelo mundo dos karaís, simboliza uma parte importante da autonomia tão almejada.
Para explicar melhor a persistência em sua busca de “ficar só”, Itahu encontra sua maior referência na floresta: o jabuti. “O povo Ka’apor não tem de voltar para o governo, uma porcaria que não traz nada para a gente. E jabuti vive sozinho, não tem amigo. A gente tem que copiar ele.”
Itahu não sabe ainda quanto tempo e esforços serão necessários para a conclusão do processo de autonomia, mas diz que deve persistir o quanto for necessário. Para isso, lembra de outra característica do jabuti. Ao amarrar o rabo do animal, conta Itahu, ele continuará a andar para frente, tencionando ao máximo aquilo que o prende. “Ele pode tentar mais de um mês, mas ele vai quebrar a corda.”